
Alfredo Jaar parte da 34a. Bienal de arte de São Paulo – Exposição Sesc Pompeia (2023).
Por DÉBORA TAVARES*
Mais que decifrar palavras, a leitura é um direito humano que organiza o caos interior e nos humaniza; sua negação, fruto de uma estrutura social desigual, é uma mutilação da personalidade e um obstáculo à emancipação
A leitura, muito além de um simples ato de decodificação de palavras, é uma ferramenta essencial para a formação da consciência crítica e para a emancipação dos sujeitos. No entanto, seu acesso e sua valorização são profundamente marcados por desigualdades sociais e econômicas. Na sociedade contraditória em que vivemos a leitura muitas vezes é vista como um espaço de diálogo e resistência, e não apenas um mecanismo funcional ou elitizado.
Ao longo deste texto, discuto o papel social da leitura a partir das reflexões de teóricos fundamentais para o campo da educação e da crítica literária, como Antonio Candido e Pierre Bourdieu, articulando suas ideias com a perspectiva de Christian Laval sobre a mercantilização da escola e a noção marxista de base e superestrutura.
Paulo Freire e a leitura do mundo
Paulo Freire argumenta que a leitura da palavra é precedida pela leitura do mundo. Ou seja, compreender a realidade que nos cerca é um primeiro passo para desenvolver uma leitura crítica da sociedade. Para ele, a alfabetização não pode ser meramente técnica, mas deve estar vinculada à transformação social e à formação da consciência política. A leitura, nesse sentido, deve ser um ato dialógico e emancipador, promovendo autonomia intelectual e participação cidadã.
O ensino tradicional muitas vezes separa os textos da experiência de vida dos estudantes, tornando a leitura uma atividade mecânica. Um modelo freireano, por outro lado, incentivaria que os alunos conectassem as narrativas lidas com suas próprias realidades, favorecendo um aprendizado mais significativo.
“Se no Brasil insisti e insisto em que a leitura da palavra é precedida pela leitura do mundo (…) A leitura crítica da realidade, tem de juntar a sensibilidade do real e, para ganhar esta sensibilidade ou desenvolvê-la, precisa da comunhão com as massas. O intelectual precisa saber que a sua capacidade crítica não é superior nem inferior à sensibilidade popular. A leitura do real requer as duas. Longe das massas populares, em interação apenas com seus livros, o intelectual corre o risco de ganhar uma racionalidade desencarnada, uma compreensão do mundo sem carne” (Freire, 1985, p. 21).
O educador nos lembra a necessidade da humildade intelectual, de modo que a leitura do mundo parece estar muito mais relacionada com dinâmicas de poder e acesso, do que a capacidade de leitura como um ato isolado em laboratório, de modo estritamente formal. a leitura da palavra só ganha sentido quando precedida pela leitura do mundo, ou seja, pela compreensão crítica da realidade que nos cerca. Ele enfatiza que a alfabetização não pode se restringir a uma técnica mecânica, mas deve estar profundamente conectada à transformação social e à formação da consciência política.
Para Paulo Freire, a leitura é um ato dialógico e emancipador, que promove autonomia intelectual e engajamento cidadão. Ele critica o ensino tradicional, que distancia os textos das experiências de vida dos estudantes, e propõe um modelo em que os alunos relacionem as narrativas lidas com suas próprias realidades, tornando o aprendizado mais significativo e transformador.
O educador também ressalta que a leitura crítica da realidade exige a união entre a sensibilidade popular e a capacidade intelectual, destacando que o intelectual não pode se isolar das massas populares – local da qual o intelectual pertence, mas se esforça constantemente em esquecer –, sob o risco de desenvolver uma compreensão do mundo desconectada da realidade concreta. Assim, nos parece que a abordagem freireana sobre a verdadeira leitura do mundo só se realiza na comunhão com as experiências e saberes do povo, evitando uma racionalidade “desencarnada” e distante das lutas sociais.
Bell Hooks e a leitura como prática de liberdade
A abordagem de Paulo Freire sobre a leitura como ato dialógico e emancipador nos leva a refletir sobre a importância de conectar os textos às vivências dos leitores, promovendo uma educação que não apenas informa, mas transforma. No entanto, essa perspectiva ganha novos contornos e aprofundamentos com as contribuições de bell hooks, que amplia a visão de Paulo Freire ao incorporar a dimensão do prazer e do pertencimento à prática da leitura.
Enquanto Paulo Freire enfatiza a leitura crítica da realidade e a necessidade de unir sensibilidade popular e intelectual, bell hooks chama a atenção para o fato de que muitas pessoas, especialmente em comunidades marginalizadas, não se veem representadas nos textos escolares, o que dificulta sua identificação e engajamento. Para ela, a leitura deve ser um espaço de liberdade, onde as vozes e experiências dos grupos oprimidos sejam valorizadas, permitindo que a educação se torne uma ferramenta de resistência e empoderamento.
Em Ensinando pensamento crítico, bell hooks complementa a visão de Paulo Freire ao enfatizar que a leitura deve ser também um espaço de prazer e pertencimento. Para ela, um dos grandes desafios é que muitas pessoas, especialmente em comunidades marginalizadas, não se identificam com os textos impostos pela escola, pois esses não refletem suas experiências e culturas: “O fato de qualquer pessoa desejar negar acesso à alfabetização em nosso país ameaça o futuro da democracia” (hooks, 2020, p. 129). A leitura, então, deve ser um direito acessível e uma ferramenta de resistência, permitindo que vozes silenciadas sejam ouvidas e valorizadas.
Capital cultural e distinção social
Pierre Bourdieu, em A Distinção, explica que o acesso à cultura letrada é profundamente desigual e depende de fatores sociais e econômicos. Ele propõe a noção de capital cultural, que se manifesta em três formas: Incorporado (habilidades e conhecimentos adquiridos desde a infância); objetivado (posse de bens culturais, como livros e obras de arte); institucionalizado (diplomas e certificações que validam a cultura adquirida).
No contexto da leitura, o capital cultural se manifesta em muitas esferas: aqueles que crescem em lares letrados possuem vantagens significativas sobre aqueles que não têm acesso a livros, bibliotecas e estímulos culturais. A escola, em vez de corrigir essa desigualdade, muitas vezes reproduz e legitima as hierarquias sociais, reforçando um sistema de exclusão: “Estudantes que não têm habilidade básica de leitura não conseguem aprender em sua capacidade total. O mesmo ocorre com estudantes com ótima habilidade de leitura, mas que se acostumaram a desvalorizar o ato de ler” (hooks, 2020, p. 46).
A discussão sobre o capital cultural, proposta por Pierre Bourdieu, revela como o acesso à leitura e à cultura letrada é profundamente marcado por desigualdades sociais e econômicas, perpetuando hierarquias que beneficiam aqueles que já possuem vantagens iniciais. No entanto, essa análise nos leva a refletir sobre um aspecto fundamental: a literatura não pode ser reduzida a um mero instrumento de distinção social.
Como defende Antonio Candido, a literatura deve ser entendida como um direito humano, essencial para a formação da sensibilidade, da imaginação e da consciência crítica: “a literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo ela nos organiza, nos liberta do caos e portanto nos humaniza” (Candido, 1995, p. 180).
Enquanto Pierre Bourdieu nos alerta para as barreiras que impedem o acesso à cultura letrada, Antonio Candido nos convida a pensar na literatura como um sistema, que humaniza e amplia a compreensão do mundo, reforçando a necessidade de políticas públicas que democratizem seu acesso e combatam a exclusão cultural.
Assim, a transição entre essas duas perspectivas nos permite enxergar a leitura não apenas como um reflexo das desigualdades, mas também como uma ferramenta poderosa de transformação e emancipação social. Nessa visão, negar o acesso à literatura é uma forma de mutilação cultural e social, pois a leitura humaniza e amplia a compreensão do mundo.
O conceito de base e superestrutura, desenvolvido por Karl Marx em sua obra Contribuição à crítica da economia política (1859), oferece uma ferramenta analítica poderosa para compreender como as instituições sociais, como a escola e a família, atuam como ambientes primários de contato e exposição à leitura, reproduzindo desigualdades sociais e culturais. Nessa obra, Marx estabelece que a base material da sociedade – composta pelas relações de produção e pelas forças produtivas – determina a superestrutura, que engloba as instituições políticas, jurídicas, culturais e ideológicas.
“A totalidade dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e à qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. O modo de produção da vida material condiciona o processo de vida social, política e intelectual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser; ao contrário, é o seu ser social que determina sua consciência”. (Marx, 2008, p. 23).
Assim, a família e a escola, como parte da superestrutura, são espaços onde o capital cultural é transmitido e acumulado, influenciando diretamente as oportunidades desiguais na sociedade. Por exemplo, crianças que crescem em famílias com maior acesso a livros, estímulos culturais e práticas de leitura tendem a desenvolver habilidades linguísticas e competências intelectuais mais cedo, o que lhes confere vantagens no sistema educacional e no mercado de trabalho.
Esse processo, conhecido como capital cultural incorporado, é reforçado pela escola, que muitas vezes valida e legitima os conhecimentos e comportamentos já adquiridos por essas crianças, perpetuando as desigualdades.
Isso significa que o modo de produção da vida material condiciona todos os aspectos da vida social, política e intelectual, incluindo o acesso à leitura e à cultura. No capitalismo, a cultura e a literatura frequentemente se tornam mercadorias, acessíveis principalmente àqueles que podem pagar por elas, enquanto narrativas contra-hegemônicas e autores independentes enfrentam barreiras para publicação e distribuição.
Desse modo, a família e a escola, como parte da superestrutura, atuam como espaços onde o capital cultural é transmitido e acumulado, reforçando desigualdades sociais. Crianças que crescem em ambientes privilegiados, com acesso a livros e estímulos culturais, desenvolvem habilidades linguísticas e intelectuais mais cedo, o que lhes confere vantagens no sistema educacional e no mercado de trabalho. Esse ciclo, conhecido como capital cultural incorporado, é perpetuado pela escola, que valida e legitima os conhecimentos das elites, mantendo as estruturas de poder e exclusão.
Por fim, o capital social e o capital simbólico também influenciam as oportunidades desiguais na sociedade. O capital social, que se refere às redes de contatos e relações pessoais, pode abrir portas para empregos, indicações e acesso a círculos influentes, beneficiando aqueles que nascem em famílias bem conectadas.
Já o capital simbólico, relacionado ao prestígio e ao reconhecimento social, é frequentemente atribuído a indivíduos que já possuem certos títulos, status ou legitimidade cultural, como diplomas de instituições de elite ou premiações literárias.
Finalmente, ao juntar todos esses autores e reflexões, podemos chegar à conclusão de que a democratização da leitura e da literatura é, portanto, uma questão de justiça social. Políticas públicas que garantam o acesso universal à leitura, como a criação de bibliotecas públicas, a distribuição gratuita de livros e a formação de professores, são essenciais para romper com as desigualdades e promover uma sociedade mais justa e igualitária.
A leitura, como direito humano, deve ser acessível a todos, pois sua ausência gera uma forma de privação cultural e social que limita o pleno desenvolvimento dos indivíduos e das comunidades.
*Débora Tavares é doutora em literatura pela Universidade de São Paulo (USP).
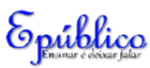

Comentários
Postar um comentário